
Peter Hammill tem um casaco de cujas mangas saiem canções em vez de mãos. O tempo e o uso fizeram dele uma peça que, a estes dias, se confunde com as linhas desajeitadas do seu corpo, com a marca que foi construindo no sofá, com a sombra que projecta nas paredes, nos móveis, no retrato dos seus pais. É-lhe estranho olhar para ela: move-se quando ele se move, acena-lhe se ele lhe acenar. Deve, portanto, ser a sua sombra. E no entanto não lhe vê os calções, nem a fisga, nem sequer um joelho esfolado, nada. É a sombra de um homem velho – disso tem ele a certeza: não conta pelos dedos, não fuma às escondidas, não colecciona álbuns do Mandrake. A sombra de um velho, de um homem cujo reflexo já não reconhece quando ao espelho se olha – de um homem velho. Mas não terá sido sempre assim? Não terá sido Hammill um homem velho durante toda a sua vida? – pois quem mais se põe a escrever tratados da alma se não um homem velho de vinte e três anos? Quem mais compreenderá, em ainda tão tenra idade, que os limites entre o certo e errado são, quase sempre, nebulosos?
Achamo-nos claramente na presença de uma figura cujo brilhantismo vai muito para além das primeiras impressões, sendo que a sua obra é, presumivelmente, tão complexa como quem a criou. E se Hammill é uma figura chave para o entendimento, pelo menos, daquilo que foi a nova música popular da segunda metade do século XX, não é apenas porque soube metamorfosear o “si” em vários “eles”; é-o também porque teve a coragem de permanecer independente, de se afastar dos outros e de si próprio – ter visão é, sobretudo, saber como e quando mudar. Foi assim que, na década de setenta, fez a ligação entre o glam-rock e o punk, para logo a seguir juntar o rock à música electrónica (olá Thom Yorke). No entanto, apesar da proeminência do seu papel enquanto músico e pensador, jamais se tinha acercado à séria da sua própria singularidade. Dizemos à séria porque se ao longo da sua carreira houve momentos nos quais se auto-cantou (houve-os, de facto), estes tinham sempre como receptor outro, ou outros, que não o próprio. Em Singularity, porém, Peter canta quase exclusivamente para si, num misto de expiação do passado e celebração da vida. Tem, de resto, razões para isso: em 2004, no dia seguinte ao lançamento de Incoherence – a sua obra-prima para o século XXI –, sofreu um ataque cardíaco que o colocou entre a vida e a morte. A experiência levou-o a adoptar uma postura diferente perante a vida: descobriu a singularidade, a sua singularidade, aquilo que o distingue dos demais. Está agora, sobretudo, feliz por ter escapado, e Singularity acaba por ser um ‘livrei-me de boa’. Isto é tão ou mais evidente quando Hammill relaciona a sua experiência com a da mãe, doente de Alzheimer, em “Meanwhile my mother”, e com a do afinador do seu piano, que morreu quando um condutor embriagado embateu contra o seu automóvel, em “Friday Afternoon” – o progressivo desaparecimento do mundo em que vive é um sinal de que também ele irá, inevitavelmente, desaparecer.
Mas eis que volta a amanhecer; eis que a luz do dia volta a percorrer as divisões da casa, demorando-se num ou noutro canto antes de prosseguir a sua marcha. Também ela acabará, eventualmente, por ceder à escuridão; também ele irá, num dia em tudo igual ao de hoje, fazer-se à estrada. É, pois, tempo de voltar a contemplar a sombra que projecta nas paredes, nos móveis, no retrato dos seus pais (presume que seja a sua sombra). Volta, como já (quase) o havia feito em A black box (1980), a escrever, cantar, tocar e gravar tudo aquilo que aparece no álbum. De resto as semelhanças entre os dois registos são notórias, principalmente se atendermos à forma como Hammill vai sobrepondo várias linhas melódicas (“Famous last words”), ou como junta o rock à electrónica (“White dot”). Mas existem mais olhares por cima do ombro: se a beleza de “Our eyes give it shape” nos remete para “I will find you”, do álbum Fireships (1992), e a vitalidade de “Vainglorious boy” nos lembra “Narcissus (Bar & Grill)”, de X my heart (1996), também a guitarra que principia “Naked to the flame” nos trás à memória o tema “Solitude”, incluído no álbum Fool`s mate, de 1971.
Dir-se-á, então, em jeito de pequena trama, que todos estes piscar de olhos poderão advir das remasterizações dirigidas pelo próprio, as quais, para além de abrangerem a sua discografia inicial a solo, tiveram ainda o condão de não deixar de fora a produção clássica dos Van der Graaf Generator, grupo de que Hammill foi membro fundador. É, de facto, perfeitamente concebível que estas lhe tenham avivado a memória, que lhe tenham feito pensar nos dias do antigamente, de quando ele, munido de muita arte e poucos engenhos, se lançava à descoberta das várias facetas do ‘eu’, do ‘eles’ e do ‘nós’, num processo em que quem ganhava eram sempre os outros, esses que também são eles, que também somos nós.
Saímos por isso à socapa (sai-se sempre à socapa quando se ganha): Singularity inscreve-se na marca dos grandes álbuns assinados por Hammill, dando seguimento à boa forma demonstrada em Clutch (2002) e Incoherence. É um olhar para trás, sim, mas um olhar para trás vindo de um homem cuja vida foi feita de olhares em frente, talvez à procura de apaziguação, talvez em busca de um final que não o abandonasse à mercê de um novo início. Um olhar para trás que nos parece convidar para um copo, porque nunca iremos morrer.
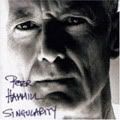
Peter Hammill, Singularity (Fie! Records, 2006)
Escrito em 2007 para o Bodyspace.